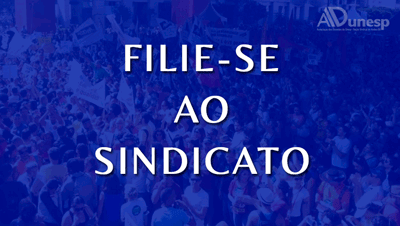Por Juliana Pasqualini, docente do Departamento
de Psicologia da Unesp, campus de Bauru, e da Pós-Graduação
em Educação Escolar, do campus de Araraquara.
Representante sindical de base da Adunesp em Bauru.
Dar nome às coisas é um ato que tem alcances profundos. Um eminente estudioso da psicologia que se debruçou sobre o problema da linguagem disse que a palavra contém “uma teoria do fato”. O que isso quer dizer? Que a palavra que escolhemos usar para nomear algo pressupõe uma certa compreensão, uma explicação do fenômeno. Dizer que o Brasil atravessa uma “pandemia” faz parecer que estamos enfrentando a ameaça e as consequências da existência de um vírus que infecta e adoece seres humanos.
Pandemia talvez seja a palavra correta para nomear o que ocorreu e ocorre no Uruguai, no Chile, nos países da Europa, ou na Austrália. Certamente não para o que ocorre no Brasil.
Se a causa da catástrofe nacional fosse um vírus, saberíamos o que fazer, afinal, a Ciência muito rapidamente identificou o patógeno, mapeou seu genoma, compreendeu o mecanismo pelo qual ele infecta e adoece pessoas e – voilà! – desenvolveu em menos de um ano vacinas para proteger a vida humana. Há mais de um ano, antes de o vírus passar a circular de forma importante no Brasil, sabemos que as infecções ocorrem, fundamentalmente, quando o vírus passa de pessoa para pessoa. Essa é uma pandemia que se alimenta de encontros, disse o sanitarista Gonzálo Vecina Neto. Se estivéssemos a lidar com a ameaça do vírus, repito, saberíamos o que fazer: estabelecer coletivamente políticas para garantir o distanciamento social e, quando inevitável o encontro, usar máscaras para minimizar o risco de contaminação; lavar as mãos e utilizar álcool em gel com frequência e evitar o contato das mãos com as mucosas. Assim fez a Austrália, que desde dezembro não registra mortes por Covid-19. Sim, a última morte por Covid-19 na Austrália ocorreu há mais de três meses. Lá já não se faz necessário o uso de máscaras, e eventos sociais que aglomeram pessoas voltaram a ocorrer sem representar risco de morte. Assim também fez o Uruguai, que registrou, até hoje, um total de 875 mortes. Total neste caso quer dizer total mesmo: desde que foi identificada a circulação do vírus no país, que tem população de 3 milhões e meio de habitantes, morreram menos de 900 pessoas. Na Austrália o total foi de 909 mortes ante uma população de 24 milhões de habitantes. Sim, isso quer dizer que o total de mortes em um ano tanto no Uruguai quanto na Austrália foi menor que o registro de óbitos nas últimas 24 horas no Estado de São Paulo.
Chile não foi tão bem-sucedido em evitar mortes: o total naquele país ultrapassa 22 mil vidas perdidas, para uma população de quase 19 milhões de habitantes. Não obstante, o esforço de imunização dos chilenos, que neste momento encontram-se em quarentena ou mobilidade reduzida por determinação de plano de ação do governo do país, tem sido notável: estima-se que 80% da população já estará vacinada até julho. Semelhante tendência observamos nos Estados Unidos, que alcançou um número terrivelmente alto de mortes em 2020, mas que, como expressão da clara mudança na política de enfrentamento da pandemia, prevê a aplicação de 200 milhões de doses da vacina até 30 de abril.
Pode-se notar, assim, que alguns países foram muito eficientes no manejo e combate à pandemia, outros menos. Mas a palavra pandemia parece adequada para essa diversidade de situações mundo afora.
Nosso padecimento no Brasil tem outra explicação, e por isso precisa de um outro nome. A mim parece uma boa escolha a palavra “morticínio”, que é sinônimo de “matança” e “carnificina”. No dicionário, morticínio é definido como “grande massacre de pessoas ou animais”. Massacre. Carnificina, por sua vez, significa “extermínio”, “chacina”. Por tratar-se de extermínio de grandes massas populacionais é que o termo “genocídio” tem sido convocado à cena.
O rol de palavras aqui elencadas, note o leitor, pressupõe uma “teoria do fato” que não remete à negligência, ou incompetência. O governo deste país não foi negligente, nem tem sido meramente incompetente. Houve, desde o princípio, a intenção de não combater ou mitigar a pandemia. Insisto: houve intenção de não controlar a pandemia. Basta constatar que nunca houve políticas coordenadas para garantir o necessário distanciamento social, nem esforço em instruir corretamente a população sobre como se proteger do risco de adoecimento e morte, muito menos um esforço coordenado para viabilizar a vacinação em massa da nossa população.
O que foi feito, ao longo deste um ano, senão garantir que as medidas de proteção e contenção da circulação do vírus fossem desacreditadas e inviabilizadas?
A vacinação dos brasileiros poderia ter sido iniciada em dezembro. Nos últimos três meses poderíamos ter alcançado vacinação em massa, houvesse ocorrido investimento na pesquisa científica para produção de vacina nacional e/ou compra de vacinas. Não providenciar a vacinação foi a escolha. O resultado é que milhares de pessoas estão morrendo diariamente de uma doença para a qual já há vacina.
Os cientistas e autoridades sanitárias vêm fazendo previsões acertadas e precisas sobre o colapso do sistema de saúde, e nenhuma providência tem sido tomada a respeito pelo governo central. Não agir é a escolha que o governo faz e reafirma a cada dia. Não se trata, portanto, de uma tentativa de controlar a pandemia que não tem sido muito bem-sucedida: trata-se da escolha de “deixar rolar”. A escolha por esse caminho é o que hoje nos faz testemunhar pessoas morrendo sem nem mesmo ter a chance de um atendimento adequado: pessoas morrendo na fila da UTI. Assim vamos nos acostumando ao registro de mais de 3 mil mortes por dia. Assim este país relega seus profissionais de saúde à mais absoluta exaustão.
Muita gente se pergunta quando é que, afinal de contas, vai acabar a pandemia. Essa é a pergunta que os outros países do mundo se fazem. No Brasil, nosso problema não é o fim da pandemia, e sim o fim do morticínio. Se estivéssemos a enfrentar uma pandemia, saberíamos o que fazer, poderíamos, quiçá, vislumbrar no horizonte o fim de toda essa tragédia. Mas enfrentamos o Senhor da Morte. Estima-se que ele – e não o Sars-Cov2 – terá ceifado meio milhão de vidas no Brasil em poucos meses.
Não se engane o leitor: o Senhor da Morte não é uma pessoa. Fosse uma pessoa, não teria tamanha capacidade de destruição e não seria assim tão difícil derrubá-lo. O Senhor da Morte é um projeto, uma visão de sociedade capitaneada por pessoas que foram alçadas ao poder, mas que mobiliza forças e encontra ressonância nas entranhas das relações cotidianas no Brasil. Fosse o inimigo um vírus, saberíamos o que fazer, mas o problema que nos coloca a esfinge é outro: que fazer diante da maldade, esta que logrou se instalar nos mais altos postos de poder do país, com apoio e continuada sustentação do famigerado "mercado"? Que fazer diante da estupidez, da irresponsabilidade, da insensibilidade, da indiferença à vida, ao sofrimento, à coletividade, ao outro, ao futuro?